Resumo
Livro artístico composto por nove ensaios, este trabalho articula links entre tecnopolítica e extrativismo para desvelar forças operantes na silicolonização do mundo. O ensaio tem início com um vídeo gravado no dia da posse de Bolsonaro, quando apoiadores gritam “Whatsapp, Whatsapp, Facebook, Facebook” como forma de ataque a um repórter televisivo. O mal-estar contido nessa manifestação popular, em que as redes sociais ganham um status de contrapoder informacional íntimo, levaram à investigação dos diversos aspectos simbólicos dessa devastação ainda em marcha: do meio ambiente, das relações políticas e da identidade de um país.
Os primeiros millenials viveram a transição para a sociedade digital – a vida adulta da minha geração começou pouco antes dos movimentos occupy. Naquele momento do meio da década de 2000, uma promessa revolucionária de futuro da internet parecia se consolidar. Infinidades de novas aplicações desafiavam e destruiam indústrias a cada semana. Minha geração comprou a narrativa da contracultura californiana de que as conexões geradas pela rede e as relações humanas que aconteciam ali gerariam uma pulsão de vida alternativa e independente da economia neoliberal. Nada sobraria. Vivíamos a semente de uma nova sociedade baseada no comum partilhado. A “utopia da internet”.
A crença na revolução se espalhava. Gérmenes de futuros.
O pós-trabalhismo italiano, principalmente na figura de Toni Negri, tentou dar conta das novas naturezas de trabalho e de uma nova classe trabalhadora emergente, o “cognitariado”. Gente que vendia sua mão-de-obra intelectual em troca de uma potência revolucionária latente. A “multidão”, e não mais a massa da era da televisão, era o corpo político em formação com a promessa de criar mundo a partir da diversidade de subjetividades conectadas. Autonomismo, bens comuns digitais distribuídos e laços afetivos. Eram o nosso porquê.
O movimento do software livre extrapolava a engenharia informática para forjar uma visão de mundo hacker. A cultura livre parecia um novo espírito do tempo. Saber como construir aplicações digitais, este saber já contendo em si o compartilhamento das novas tecnologias, significava algo como deter os meios de produção. Figuras como Linus Torvalds e as infinitas comunidades sem rosto pautadas na colaboração e na abertura prometiam que o futuro seria como a multidão, as comunidades, os coletivos quisessem. Nós. O código aberto e o torrent seriam as ferramentas. Eram o nosso como.
E eis que ocupamos as ruas. Convulsões aparentemente imparáveis num hiato de apenas dois anos: a Primavera Árabe no Egito, o Occupy Wall Street em Nova York, o 15M espanhol, a Catedral de Saint Paul em Londres, o Gezi Park turco, as Jornadas de Junho no Brasil e tantos outros que não me afetaram tão de perto. Foram infinitos mais. A multidão sem liderança protestava contra o “velho” e abria a possibilidade da democracia direta. Figuras como David Harvey viam nessas cidades rebeldes a concretização das relações que o digital possibilitou. Distribuição de poder na década de 2010. Era o nosso quando.
Eu acreditei nisso tudo. Em 2020, já parece assustadoramente passado.
Nosso porquê, como e quando não se sustentam diante da realidade. Parecem fantasia. O comum se enclausurou em aplicações digitais comerciais. O software livre minguou como prática e como desejo. A narrativa de ocupação das ruas deixou de ser uma estética libertária.
Ingenuidade millenial?
***
| 2010 | 2020 |
|---|---|
| redes sociais mal existem | infocalipse |
| software livre como movimento | privatização e modelos de negócios extrativistas |
| remix como estética da cultura livre | dilução em gifs, stickers e emojis |
| multidão criando em colaboração | narratocracia vigilada |
| pessoas em rede | ‘usuários’ e bots |
| ampla infraestrutura p2p | infraestrutura client-server em sua maioria |
No início da década de 2020, a internet está quase toda controlada por algumas empresas, a maioria localizada no Vale do Silício, na baía de São Francisco – Facebook e Google, juntos, concentram sozinhos 37% do tráfego diário de toda a rede. As que não são Big Tech desejam ser. Seguem a mesma cartilha de negócios oligopolística, colonizadora e extrativista.
No início da década de 2020, uma nova rodada de enclausuramento dos bens comuns fez desaparecer o modelo original descentralizado, horizontal e aberto da internet. Todas as indústrias criativas conseguiram encontrar modelos de negócio que garantem a propriedade e comercialização das criações humanas como sempre fizeram, e desta vez com um nivel ainda mais profundo de precarização. O cognitariado perdeu sua potência. Uberizou-se.
No início da década de 2020, algoritmos, big data, machine learning, inteligência artificial e qualquer outra expressão da moda atropelaram modelos de desenvolvimento baseados no uso livre e no acesso público e universal. A arquitetura da maioria dos produtos digitais está otimizada para adição e monetização. Pessoas seguem sendo coisificadas em formato usuários. Confundimos a dopamina dos likes com influência no tecido social.
Poderíamos ter feito algo diferente? Autocrítica serve de algo a esta altura?
***
A crise do digital levou a fenômenos eleitorais de difícil comprenssão. Uma crise da democracia. Convulsões aparentemente imparáveis num hiato de apenas dois anos: Donald Trump nos EUA, Brexit no Reino Unido, Bolsonaro no Brasil, Modi na Índia, Erdoğan na Turquia, Duterte nas Filipinas, e tantos outros que não me afetaram tão de perto. São infinitos mais. En comum, esses líderes tem o autoritarismo e a desinformação como motor de suas plataformas políticas, fazem um uso avançado e especialista dos recursos vis disponíveis nas aplicações difundidas hoje nos mais de 5 bilhões de smartphones ativos no mundo.
Ao contrario do que esperaba-se, o capitalismo de plataforma, modelo hegemônico de digitalização dos espaços informacionais, ajuda a propagar uma cosmovisão tubular, solucionista, neoliberal e conspirativa. A terra plana. O vírus chinês. Os anti-vacina. O nazismo que nunca existiu. A mamadeira de piroca. As regras, design, idiomas, culturas e sistemas de crenças dos produtos (normalmente gratuitos) criados por Facebook, Google, Amazon, Apple, Netflix, Twitter, LinkedIn – entre tantos outros, incluídos seus competidores asiáticos Line e TikTok e o russo Telegram – aceleraram a jornada da humanidade rumo a uma era do absurdo, do disparate, da ignorância, da falta de inteligência.
De gente cujo grito de guerra é “Whatsapp! Whatsapp! Facebook! Facebook!”
Nós contra eles. É possível buscar uma equação diferente?
***

O incômodo com o vídeo gravado no dia da posse de Bolsonaro me habita desde que o assisti pela primeira vez. Logo após o Réveillon de 2018, circulou durante um ou dois dias nas timelines e chegou a ter seu espaço na imprensa com um enfoque exótico, “vejam que curioso os gritos contra a Globo”. Eu vejo mais do que isso. Vejo a materialização de um discurso tecnoapocalíptico, uma prova de que as redes digitais podem ser usadas ativamente para influenciar resultados de eleições – como se vem discutindo muito desde o escândalo Cambridge Analytica.
Meu interesse artístico orbita em torno do tecnocapitalismo e das relações entre mídia, tecnologia e poder. Daí estes gritos terem ressoado tanto. Fiz o download e comecei a manipulá-lo de mil formas. Cheguei a conceber três ou quatro obras diferentes – instalações, intervenções, esculturas – nunca realizadas. Até que extraí em imagens cada um dos 751 frames que compõem os 25 segundos, e comecei a manipulá-los de outras mil maneiras.
O trabalho começou a ganhar sua forma de publicação impressa neste momento, embora tenha me dado conta apenas bastante mais tarde. Corrompi a natureza audiovisual em imagem estática. Fora da rede, o vídeo ganhou uma existência “palpável”. Tornou-se uma coleção de imagens com diversas possibilidades narrativas. O primeiro bloco do ensaio, 25 Segundos, é o resultado deste trabalho.


Conforme o trabalho de desconstrução do vídeo seguia, ramificações de outras obras passar a entrar em diálogo.
Em certo momento me dei conta de que a concentração de poder em torno das Big Tech poderia ser articulada numa mesma narrativa. Partir dos gritos brasileiros para expor como o Vale do Silício realmente funciona e o que está por trás da superficialidade da internet como a vemos manifestada.
Desde 2012, minha principal atividade laboral está vinculada ao imaginário e às práticas do Vale do Silício – sou funcionário da Change.org Foundation, grupo de organizações sem fins lucrativos operando a maior plataforma de petições do mundo. O propósito ativista que me move a continuar dedicando a maior parte das horas do dia a este trabalho não cancela o fato de esta ser uma organização criada sob a cultura e a lógica empresarial norte-americanas, e também de eu mesmo integrar a cadeia como força de trabalho intelectual, lidando e liderando equipes executivas de engenharia, produtos, comunicação e campanhas. Eu sou o cognitariado global precarizado pelo capital tecnológico made in California.
Foi dentro do contexto da Change.org que ouvi a frase “we just need to make the board happy”, mote de um dos blocos do trabalho. A cultura empresarial siliconiana, assim como a lógica de investimentos de todo o capital privado, prevê que a cada trimestre o comitê de administração receba um relatório das atividades da companhia – contém um balanço financeiro, indicadores de performance, principais decisões e projetos para os próximos três meses. É uma maneira de “to make the CEO accountable”. O board, na prática, encarna, dilui e apaga a figura do chefe capitalista de cartola e charuto difundida nos séculos XIX e XX. É o atual chefe supremo. O topo da carreira de um executivo é ser convidado para fazer parte do board de outra organização, e assim aumentar seu campo de influência. A cada trimestre, é necessário deixar o board feliz, para que os acionistas e investidores possam, por fim, rir também.
Iniciei uma investigação sobre os relatórios trimestrais, as informações financeiras, a arquitetura de influências, as origens de cada membro do board das quatro principais companhias do Silicon Valley – Google, Amazon, Facebook e Apple. São informações publicadas pelas próprias empresas, seguindo a cultura da transparência imperativa no reino do dígitos binários. No entanto, estar publicado não significa facilidade de acesso.
Em geral, membros de boards são orgulhosos e parecem sempre satisfeitos nas imagens disponíveis online. Há infinidades de reproduções dos mesmos rostos milionários exibindo sorrisos largos. Retratos do objetivo final de cada aplicação ou plataforma digital comercial lançada no mercado: o lucro de seus acionistas, investidores e comitês de administração. O que é a internet no fim das contas.
O trabalho iniciado por Make the Board Happy abre caminho para ensaios correlatos e se tornou o próprio método de investigação. O impulso é “abrir o código” dessas corporações; neste sentido, Devastação faz um tributo ao open source e à cultura livre. O colecionismo e indexação de imagens encontradas na internet se tornaram a matéria-prima de cada ensaio – uma prática que remonta aos primórdios da cultura remix.
A prática de buscar, investigar, saltar de um link a outro, tentar outros caminhos para encontrar uma informação e de, no percurso, ir fazendo associações mentais (seja de textos ou imagens) se relaciona de alguma forma com as ideias situacionistas, surgidas pela década de 1950. Assim como os shopping centers e as passagens que substituíram a experiência do deambular pela do consumo, o encapsulamento da internet em aplicativos de certa forma afogou o browsing, o navegar na internet. O browsing vem sendo substituído pelo scrolling: mais elementos sobre o mesmo conteúdo ao invés de mais conteúdo sobre muitos elementos. Resgatar a hiperlinkagem original e praticar a internet como meio de deambulação e de deriva psicogeográfica é uma maneira de dotar o hiperlink de sua natureza misma. Os significados e narrativas de alguns blocos do ensaio seguiram essa lógica em sua construção, como é o caso de Pedra e Mar, que trata da exploração de silício no Brasil e da dependência da internet em cabos submarinos mais extensos que a própria Terra.
O formato impresso do trabalho também busca se relacionar com o browsing. Iniciei a montagem do ensaio visual como um livro comum, linear, páginas em sequência levando a um clímax. Mas cada informação ou elemento do livro se relaciona com diversos conceitos ao mesmo tempo, são constelações superpostas. Ao me desfazer da lombada, cada bloco passou a ter uma existência própria (embora contida sob o mesmo guarda-chuva) e a possibilidade do manuseio. Em deriva, pode-se saltar, deter-se ou juntar as peças segundo a vontade.
Nesse caminho, o universo editorial se converteu em um ponto estético chave. As publicações independentes e o imaginário dos zines, tão presentes no universo ativista e de mídia-livre, inspiram as dobras, as técnicas de impressão, os diferentes formatos de página e a própria precariedade em que o trabalho aposta. Imagens lumpenproletarias em baixa resolução retiradas da internet, como objetos encontrados na rua, são os signos manipulados na construção do discurso.
No caso de um dos blocos, o Vale do Silício foi discursivamente transformado em país. Durante a investigação sobre as Big Tech, me deparei com os balanços anuais de cifras inimagináveis, lucros em escala progressiva nos últimos anos, uma concentração de mercado talvez vista em indústrias como as de extração de petróleo e as financeiras. Quem manda no mundo? A atividade de somar os faturamentos de Google, Amazon, Facebook e Apple como se fossem o PIB de um país revelou que essas quatro pessoas jurídicas localizadas num território de 203 quilômetros quadrados (a soma das cidades estadunidenses Menlo Park, Palo Alto, Mountain View e Sunnyvale – o equivalente às Ilhas Cook, um pontinho esquecido no globo ao lado da Nova Zelândia) detêm um poder econômico que poderia fazer parte do G-20. Em comparação com a América Latina, seria hoje o terceiro país mais poderoso. Renda per capita: 8,3 milhões de dólares cada día. Densidade: 1 pessoa a cada 1.200 quilômetros quadrados. Essa população de 255 mil pessoas é o que cada like alimenta.

Por fim, este trabalho não abandona a perspectiva do sul. Mais especificamente o Brasil, cuja identidade encarno, agora em condição imigrante na Europa. O grupo gritando “Whatsapp! Whatsapp! Facebook! Facebook!” como manifestação de apoio a um miliciano cujo projeto de país não poderia ser mais absurdo, higienista, homofóbico, violento, moralista, infantil, obscurantista, autoritário, retrógrado, machista, geno e ecocida não me deixa em paz. Há poucos anos acreditava na internet como uma semente de futuro outro.
Era possível prever a devastação?
***
Entender o projeto das Big Tech como colonial tem também implicações no universo das lutas pela preservação do meio ambiente e nas discussões sobre as mudanças climáticas. A indústria digital usa a nuvem como símbolo da imaterialidade “limpa” dos seus produtos, um estratagema perverso. Por trás das corporações, há uma cadeia imensa de exploração de recursos naturais ainda majoritariamente baseada em extração de minérios, energias fósseis e exploração de mão-de-obra análoga à escravidão. Alguns exemplos são o lítio e o silício, que pautam as relações de exportações entre estados industrializados e agrários. E a produção de computadores e celulares, que também segue a lógica de terceirização em países onde se pode contar com baixos custos e ampla produção de mais-valia.
Quando se amplia a discussão para o campo informacional, e se entende o extrativismo de dados como nova estratégia colonial, se destacam países massivos como Índia e Brasil, extremamente desiguais e esmagados por processos históricos brutais de colonização – estão entre as três maiores populações do Facebook, com 300 e 130 milhões de usuários. A natureza do rastreamento de dados vê vantagem na homogeneização dos hábitos. Quanto mais gente desejando e usando as mesmas aplicações, e menos barreiras legais e comerciais (a falta de legislações avançadas de proteção de dados, por exemplo), mais engajamento, mais publicidade, mais dinheiro. É possível aqui um paralelo com as monoculturas agrícolas. Em seus anos iniciais, a internet era mais parecida a modelos mais sustentáveis e humanos como a agricultura familiar e a permacultura Até mesmo às florestas, autogestionadas no caos da biodiversidade. Hoje, o padrão é o oposto – similar ao que ocorreu nas colônias a partir do século XVI, apesar de a metáfora ser necessariamente anacrônica. A extração em escala de um par de commodities era o motor de enriquecimento das metrópoles.
***

Uma rede distribuída é automaticamente uma rede democrática. Verdadeiro ou falso? A internet é um protocolo (http). Nós que se ligam entre si sem controle central. Um nó não é necessariamente mais relevante que outro. Assumimos que horizontalidade levaria a mais democracia, a mais liberdade, a possibilidades inesperadas. Mas não foi o que ocorreu.
Como a aparente liberdade virou controle?
A possibilidade de cada um se expressar faz por fim que todos tenham voz e a participação política vive seu auge. Verdadeiro ou falso? Transparência, accountability, cidadania ativa. Diversas iniciativas prosperam nesse sentido, como a própria Change.org, mas é fato que a narrativa geral se entortou para o ciberbullying, os discursos de ódio, as teorias conspiratórias e as tentativas de manipulação. As vozes da internet não são massivamente progressistas, não partem dos valores dos direitos humanos. Há sim mais gente envolvida em política, mas seguindo quais programas? A rede potencializa processos históricos de alienação para alimentar motivações mesquinhas, ególatras, religiosas, dogmáticas.

O que mais esperar da sociedade do espetáculo?
Termos de uso e políticas de privacidade são as garantias de comunidades digitais seguras e prósperas. Verdadeiro ou falso? A economia grátis – e suas mil versões long tail, DIY, maker, freemium, freebies, wiki, marketplace, pay-what-you-want – logo se deu a entender. Se algo é grátis, a mercadoria é sua atenção. Sem novidade desde a indústria da publicidade e da era da televisão, mas agora cada detalhe da vida vale dado. Monetizar o sono, o exercício físico, as relações amorosas, o passear com o cachorro, o sorriso, os copos de água. O tempo de leitura.
Um cooperativismo de plataforma é mesmo viável?
***
Mckenzie Wark defende que há uma nova classe social emergente, transfigurada da antiga classe dominante capitalista. “Classe vetorial” seria o grupo de indivíduos e empresas que controlam o “vetor” da extração de dados. Exemplo: Amazon. Jeff Bezos e seu board controlam não apenas indústrias, armazéns, logística, mas uma plataforma que controla o mercado inteiro e se manifesta não apenas num site na internet, mas em dezenas de aplicações – Alexa, Kindle, Prime Video, Amazon Music, Echo, Fire TV, AWS etc. Cada interação de um usuário com qualquer de seus produtos e portas de entrada, ao longo de todo o vetor, pressupõe inteligência de dados para a Amazon. De todos os usuários, mesmo aqueles que não compraram nada, extrai-se mais-valia. Cada clique significa trabalho não-remunerado.
***
O que aconteceu entre 2010 e 2020?
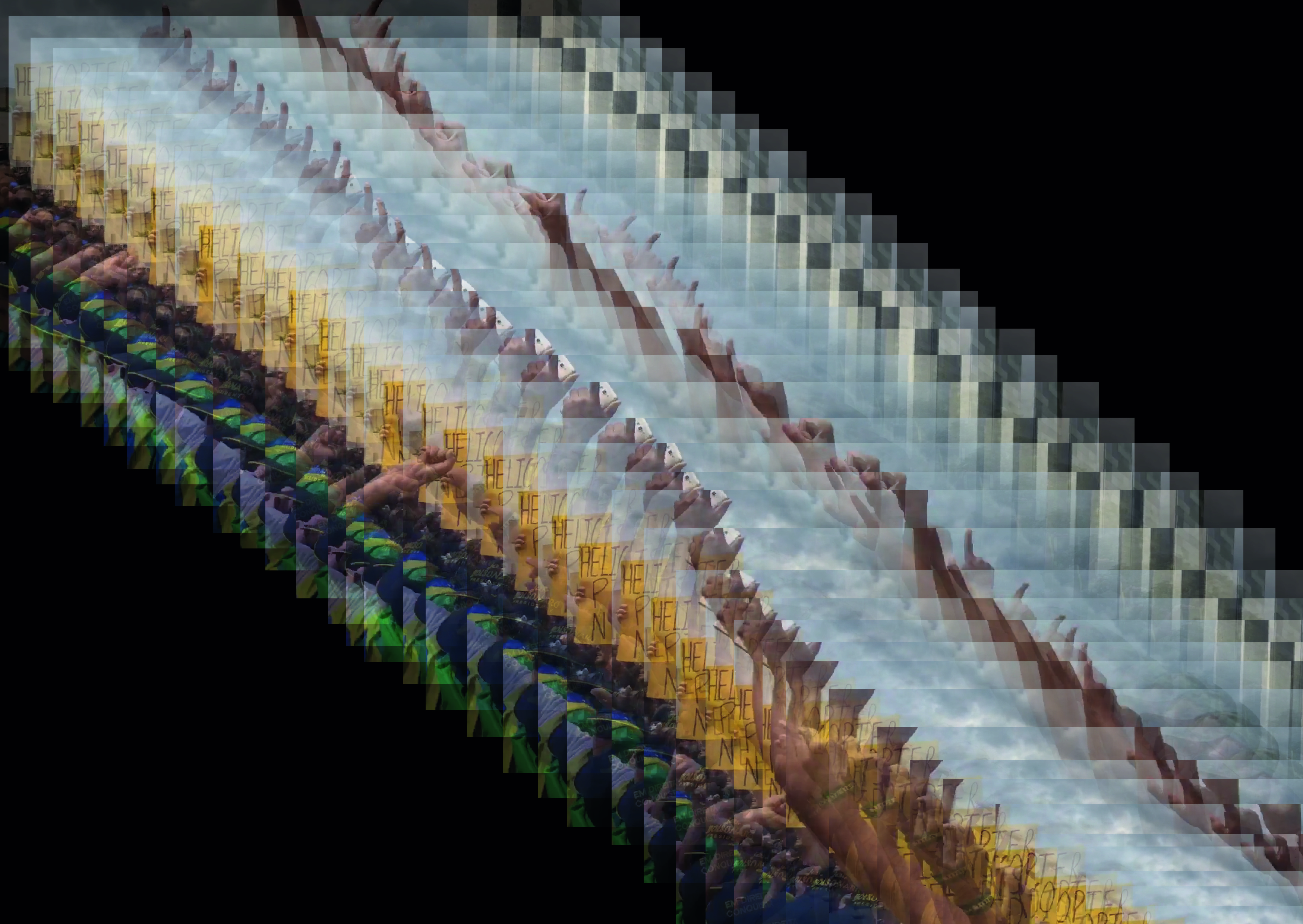

Referências bibliográficas
AVILA, Renata. Digital sovereignty or digital colonialism? New tensions of privacy, security and national policies. In: Revista Sur, jul. 2018. Disponível em: <https://sur.conectas.org/en/digital-sovereignty-or-digital-colonialism/>. Acesso em: 24 nov. 2019.
AZOULAY, Ariella Aïsha. Errata. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 2019.
BAMBOZZI, Lucas. Do invisível ao redor: arte e espaço informacional. 2019. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
BEIGUELMAN, Giselle. Memória da Amnésia: Políticas do esquecimento. São Paulo: SESC SP, 2019.
BERARDI, Franco Bifo. Futurabilidad: la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.
BRUNO, Fernanda. A economia psíquica dos algoritmos: quando o laboratório é o mundo. In: Jornal Nexo, 12 jun. 2018. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2018/A-economia-ps%C3%ADquica-dos-algoritmos-quando-o-laborat%C3%B3rio-%C3%A9-o-mundo. Acesso em: 24 nov. 2019.
BÜHLER, Melanie. No Internet, No Art: a Lunch Bytes anthology. Amsterdam: Onomatopee, 2015.
BURCKHARDT, Martin. All and Nothing: a digital apocalypse. Londres: MIT Press, 2017.
CRARY, Jonathan. 24/7 Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Ubu Editora, 2016.
EL PAÍS. Richard Sennett: Lo gratuito conlleva siempre una forma de dominación. 18 ago. 2018. Disponível em: <https://elpais.com/elpais/2018/08/09/eps/1533824675_957329.htm>
FLÓREZ, Fernando Castro. Estética a golpe de like: post-comentarios intempestivos sobre la cultural actual. Murcia: Newcastle Ediciones, 2016.
FLUSSER, Vilém. O Mundo Codificado: Por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Ubu Editora, 2017.
FONTCUBERTA, Joan. La Furia de las Imágenes: notas sobre a postfotografia. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2017.
GUARDIOLA, Ingrid. El Ojo y la Navaja: un ensayo sobre el mundo como interfaz. Barcelona: Arcadia, 2019.
HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Petrópolis: Vozes, 2017.
HARVEY, David. Rebel Cities: from the right to the city to the urban revolution. New York: Verso, 2012b.
KHOLEIF, Omar. You Are Here: art after the internet. Manchester: Home, 2017.
KRENAK, Ailton. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. São Paulo: Cia das Letras, 2019.
LAIA, João (org.). Ahogarse en un Mar de Datos. Madrid: La Casa Encendida, 2018.
LIU, Wendi. Abolish Silicon Valley: how to liberate technology from capitalism. London: Repeater Books, 2020.
LOVINK, Geert. Sad by Design: on platform nihilism. London: Pluto Press, 2019.
MOROZOV, Evgeny. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu Editora, 2018.
PRETTI, Lucas. Poéticas do Comum: reflexões sobre arte gestada coletivamente nos espaços informacionais da cidade de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Artes) — Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista. São Paulo, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/151349>
RENDUELES, César. Sociofobia: mudança política na era da utopia digital. São Paulo: Edições Sesc, 2016.
SADIN, Eric. La Silicolonización del Mundo: la irresistible expansión del liberalismo digital. Buenos Aires: Caja Negra, 2018.
SCHOLZ, Trebor. Cooperativismo de Plataforma. São Paulo: Editora Elefante, Autonomia Literária & Fundação Rosa Luxemburgo, 2017.
SILVEIRA, Sergio Amadeu da. “A internet em crise”. In: SADER, Emir (org). E agora, Brasil? Rio de Janeiro: LPP/UERJ, 2019.
STEYERL, Hito. Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.
WARK, Mckenzie. Capital is Dead: Is This Something Worse? Nova York: Verso Books, 2019.
ZAFRA, Remedios. Ojos y Capital. Bilbao: Consonni, 2018.

